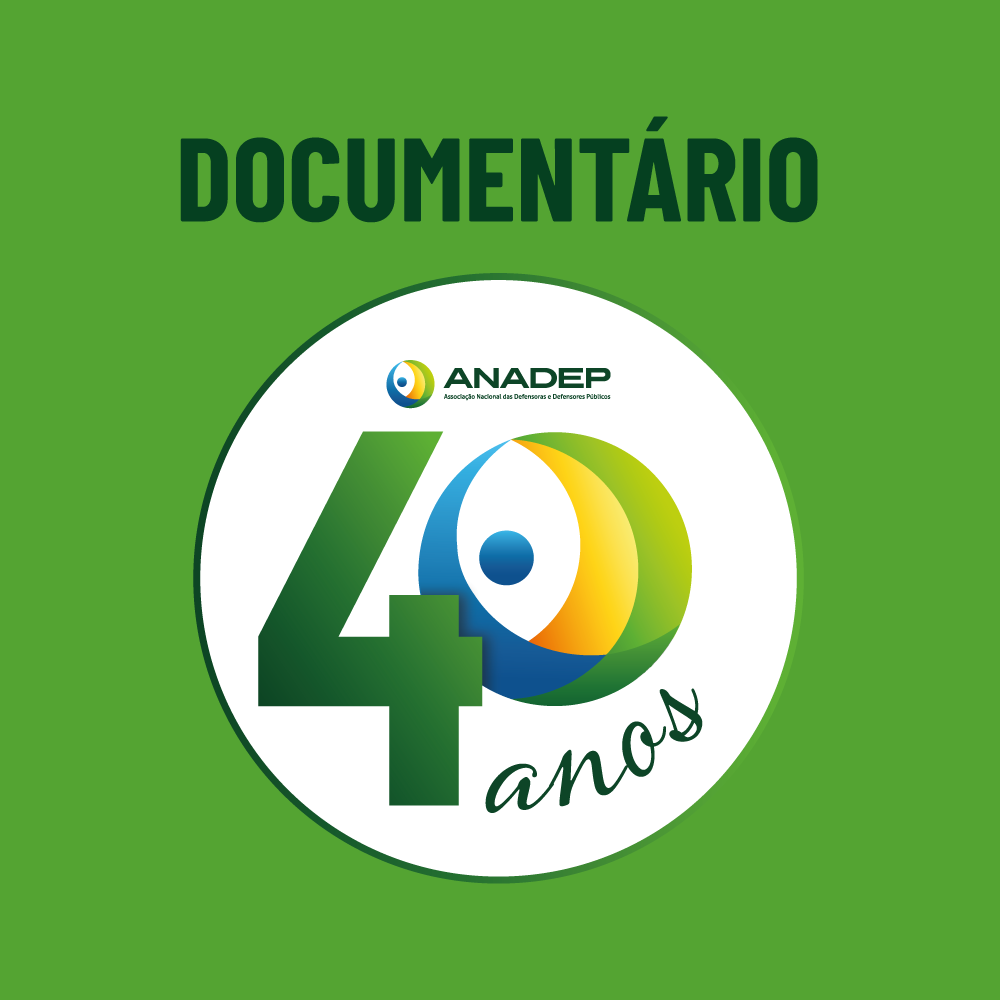Autonomia da Defensoria Pública
Marco Apolo da Silva Ramidan é Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro.
1. A colocação do tema. 2. Pequeno estudo sobre a questão da remuneração decorrente da emenda constitucional nº 41, de 19/12/1998. 3. Hermenêutica Constitucional. 4. Outros direitos e garantias. 5. Conclusão e medidas judiciais sugeridas. 6. Teses.
1. A colocação do tema
A Constituição Republicana tem sofrido constantes emendas visando adequá-la a realidade sócio-político-econômica, para atingir a finalidade para a qual foi constituído o novo Estado Brasileiro. Assim, as emendas vêm trazendo modificações profundas e uma delas foi procurar equacionar a disparidade existente no País sobre a política remuneratória, por conta das Finanças Públicas e o Orçamento anual. Daí, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ter-se estabelecido a regra do art. 17 cujo teor é o seguinte:
“Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como os proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título.”
A regra contida no dispositivo acima é de eficácia plena e de aplicabilidade imediata, tendo o Supremo Tribunal Federal ao julgar mandado de segurança, assim se posicionado:
“O pressuposto para a aplicação do art. 17, caput, ADCT/1988, isto é, para a redução do vencimento, remuneração, vantagem e adicional, bem como de provento, é que estes estejam em desacordo com a Constituição de 1988. Ora, a Constituição de 1988 não estabeleceu limites ao critério do cálculo do adicional por tempo de serviço, em termos de percentuais. O que a Constituição vedou no art. 37, XIV, é o denominado ‘repique’, ou o cálculo de vantagens pessoais uma sobre a outra, assim em ‘cascata’. Situação jurídica coberta, no caso, pela coisa julgada, assim imodificável.” (MS 22.891, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 07/11/03)
Ora, na obra do Constituinte Originário a regra contida no inciso XIV do art. 37, determinava:
“os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento;”.
Com a E.C. nº 19/98, passou a constar:
“os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;”
Essa alteração acarretou uma abrangência maior da limitação que se pretendia, o que não se dava na redação anterior.
Por seu turno o disposto no inciso XI do art. 37, em sua redação original dispunha :
“ A lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observados, como limites máximos e no âmbito dos respectivos poderes, os valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, por membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado e Ministros do Supremo Tribunal Federal e seus correspondentes nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios, e, nos Municípios, os valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo Prefeito;”
Como se vê até aí não havia a limitação de um teto remuneratório estabelecido, o que na prática acabava por elevar os salários dos agentes públicos (o termo é usado no sentido técnico-administrativo que abrange os agentes políticos, os particulares colaboradores e os servidores públicos) a patamares altos sem um parâmetro.
2. Pequeno estudo sobre a questão decorrente da Emenda Constitucional nº 41/2003
Com a E.C. nº 41/2003, foi ordenado pela regra do art. 9º a aplicação do disposto no art. 17 do ADCT da Constituição a qualquer tipo de remuneração percebida pelos servidores e agentes já mencionados, considerando o teto fixado no inciso XI do art. 37 da CRFB. Pretendeu-se com isso a imediata redução dos vencimentos percebidos cujo valor fosse superior ao estabelecido como teto.
Ora, parece que o Constituinte Derivado se sobrepôs ao Constituinte Originário porque acabou por violar cláusula pétrea a partir do momento que estabeleceu regra, através de Emenda Constitucional, reduzindo os vencimentos cujo valor fosse superior ao estabelecido como teto.
A redação do referido art. 9º é no seguinte sentido:
“ Aplica-se o disposto no art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias aos vencimentos, remunerações e subsídios dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza.”
Na análise da aplicação desse dispositivo, com a clareza que lhe é peculiar explica com propriedade o eminente José dos Santos Carvalho Filho, mencionando ainda com o mesmo entendimento José Afonso da Silva, Celso Antônio Bandeira de Mello e Diogo de Figueiredo Moreira Neto, nos pareceres produzidos pelos mesmos e solicitados pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público e anexados a ADIn nº 3.105, ajuizada pela referida Associação[1]:
“Tal dispositivo, entretanto, se afigura flagrantemente inconstitucional. O art. 17 do ADCT da Constituição integrou originariamente a Constituição de 1988; cuida-se, pois, de norma oriunda do Poder Constituinte Originário, contra o qual, afirma a mais autorizada doutrina, não há como invocar direito adquirido. O art. 9º da EC 41/2003, no entanto, espelha mandamento decorrente do Poder Constituinte Derivado, que é limitado, subordinado e condicionado; segue-se, pois, que deve observar as regras imutáveis da Constituição – as denominadas cláusulas pétreas – insculpidas no art. 60, § 4º, da Constituição, nelas estando incluídas as que dispõem sobre direitos e garantias individuais (art. 60, § 4º, IV, CF).
“Ora, não há qualquer dúvida de que a irredutibilidade de vencimentos constitui direito adquirido dos servidores, como transparece do art. 37, XV, da CF. Outra conclusão, assim, não se pode extrair senão a da inconstitucionalidade do citado art. 9º da EC 41/2003. Desse modo, o servidor que, com amparo na legislação pertinente, percebe remuneração superior ao teto fixado no art. 37, XI, da CF (ou provisoriamente no art. 8º da EC 41), não pode sofrer redução em seu montante. O direito do Poder Público, no caso, será apenas o de manter irreajustável a remuneração até que as elevações remuneratórias subseqüentes possam absorver o montante. Na verdade o correto é considerar no caso a percepção de duas parcelas, uma correspondente ao teto e outra equivalente ao excesso remuneratório. Assim, à medida que for sendo reajustada a parcela relativa ao teto estará sendo reduzida a parcela referente ao excesso. Em certo momento futuro, esta última parcela será totalmente absorvida e, a partir daí, a remuneração do servidor – agora nos limites do teto – estará em condições de ser reajustada normalmente.
O que é juridicamente inviável é que, num estalar de dedos ocorrido sob a égide de emenda constitucional, a remuneração seja simplesmente reduzida a limite remuneratório fixado posteriormente ao momento em que nasceu o direito à sua percepção.”
A Defensoria Pública foi inserida como função essencial à função jurisdicional do Estado, com a Constituição de 88, tendo a E.C. 45/2004 renumerado o art. 134, para nele fazer inserir mais um parágrafo (§ 2º) o qual tem a seguinte redação:
“Às Defensoria Públicas são asseguradas autonomia funcional e administrativa, e a iniciativa da proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.”
O art. 135, por sua vez, recebeu nova redação para recomendar a carreira da Defensoria Pública aplicar-se a regra do art. 39, § 4º, no que se refere a remuneração.
Portanto, o estudo proposto será norteado, principalmente, pelo exame da inovação trazida pela Emenda Constitucional nº 41/98 que veio alterar o texto do inciso XI do art. 37, que já havia recebido uma nova redação pela Emenda nº 19/98.
2.1. As Emendas Constitucionais nºs 19 e 41.
Antes das Emendas Constitucionais nº 19/98 e 41/98, não se computavam as vantagens de caráter pessoal para o cálculo do teto da remuneração previsto no art. 37, XI, da Constituição Republicana, que em sua redação original assim dispunha:
“a lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observados, como limites máximos e no âmbito dos respectivos poderes, os valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, por membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado e Ministros do Supremo Tribunal Federal e seus correspondentes nos .Estados, no Distrito Federal e nos Territórios, e, nos Municípios, os valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo Prefeito;”
Com a nova redação inserida pela E.C. nº 19/98 ao inciso XI do art. 37, assim ficou estabelecido:
“a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.”
Já naquela oportunidade usava-se duas expressões básicas para evitar discussões e interpretações dúbias que pudessem comprometer, como pano de fundo, as finanças públicas e com isso o orçamento: remuneração e subsídio (este é espécie daquela que é gênero).
Valeu-se a técnica legislativa do conceito estabelecido, quanto a expressão remuneração, do art. 41 da Lei nº 8112/90, observada a nova redação inserida pela Lei 8852/94, em seu art. 1º, inciso III, que define a remuneração como a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao local de trabalho e a prevista no artigo 62 da Lei nº 8112/90, ou outra paga sob o mesmo fundamento, com exclusão das verbas indicadas nas alíneas do referido inciso; ou seja a soma do vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.
Quanto a expressão subsídio, este é a remuneração das pessoas indicadas no § 4º do art. 39 da Carta Política da Federação, fixado em parcela única, vedado qualquer acréscimo de gratificações, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.
Na busca de uma uniformização a terminologia passou a ser remuneração para os servidores públicos (incisos X e XI, do art. 37, com a nova redação da E.C. nº 19/98) e subsídio (inciso XI, do art. 37, com a nova redação conferida pela E.C. nº 19/98) para membro de Poder, para o detentor de mandato eletivo, para os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais, cuja fixação prevista era em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. Essas eram as disposições inclusive do § 4º do art. 39 da E.C. nº 19/98.
Outra não pode ser a interpretação se for levado em consideração a hermenêutica constitucional.
A E.C. nº 41/98, não trouxe alterações ao § 4º do art. 39 e ao inciso X do art. 37, que permanecem com a mesma redação da E.C. nº 19/98, nos seguintes termos:
“§ 4º - O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.”
“X – a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de “índices;”.
Contudo, o inciso XI do mencionado artigo passou a ter a seguinte redação:
“a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;”. (grifos não originais)
Como se extrai dos referidos dispositivos legais somados ao art. 48, inciso XV da Carta Política, a política de remuneração do serviço público no País atenderá a fixação do subsídio que for fixado pelo Supremo Tribunal Federal para os seus Ministros através de lei de iniciativa do referido Órgão do Poder Judiciário (art. 48, XV d CRFB).
Por força das regras estabelecidas nos arts. 134 (em especial o seu § 2º) c/c 135 da CRFB e bem assim o disposto nos arts. 39 § 4º e 37, XI, da Carta Política, à Defensoria Pública deve ser aplicado o percentual do subsídio correspondente a 90,25 % do valor fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito nacional e dos Estados -Membros. Vejamos o por quê.
3. A Hermenêutica Constitucional e a Federação Brasileira
Como se sabe, a hermenêutica constitucional determina a observância de princípios constitucionais para a interpretação da norma jurídica constitucional (entendendo-se como norma jurídica o gênero sendo espécies os princípios – com um grau de abstração mais elevado e imantador e orientador para a criação das regras constitucionais – e as regras – com grau de abstração menos elevado que os princípios e subordinadas na interpretação a eles) e, pelo princípio da simetria constitucional (princípio que norteia a criação de normas constitucionais dos Estados-Membros, dentre outras funções), as Constituições Estaduais devem observar o norte que é a Constituição Republicana. Portanto, aquelas são reflexos desta.
Outro não é e nem podia ser o resultado, pois a Federação Brasileira, forjada sobre a orientação de verdadeiras oligarquias decorrentes das capitanias hereditárias, com certo grau de centralização, recomenda aos Entes da Federação - e por via de conseqüência aos Estados-Membros – uma autonomia nos termos da Constituição Republicana (art. 18, caput).
Assim, a organização político-administrativa do Estado Brasileiro concede à União uma dose considerável de centralismo, fazendo com que as Constituições dos Estados-Membros observem os princípios nela contidos (art. 25).
Cabível, portanto, sem qualquer margem de erro a interpretação que às Defensorias Públicas, deve se aplicar o percentual de 90,25 % para a fixação de sua remuneração (uso a palavra remuneração como gênero).
Ora, como já mencionado acima, as Leis nºs. 8112/90 e 8852/94 fixam a periodicidade anua para o reajuste da remuneração no País. Sendo assim, a cada mês de janeiro é fixado o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
Se assim é, não cabe qualquer interpretação limitativa para redução da remuneração dos Defensores Públicos, até porque o texto inserido no inciso XI do art. 37 da Carta Magna pela E.C. nº 41/98, não pode ser interpretado e condicionado a vontade do governo de Estado-Membro, pois é expressão da vontade do Povo, que através de seus representantes tem conferido a legitimação (que pode ser perdida se houver incompatibilidade entre aquilo que o povo quer e aquilo que efetivamente é feito por seus representantes) ao Poder Constituinte Derivado para emendar a Constituição Republicana cujo cumprimento é uma exigência do regime adotado em toda a Federação.
É de salientar ainda que a Defensoria Pública não pode ser tida como Instituição dependente ou integrante do Poder Executivo, pois a dicção do art. 134 da Constituição Republicana é no sentido de conferir a ela um munus social não só de essencialidade à função jurisdicional em defesa do Povo, verdadeiro soberano do Poder Social e Político no regime democrático de governo; mas, também, de protetora de todos os direitos e garantias constitucionais, zelando pelo respeito ao elemento humano do Estado dentro e fora da função jurisdicional. Só assim haverá o fortalecimento do Estado Social e Liberal (no caso do Brasil é caracterizado pela regra do art. 170, da CRFB) nos países que o adotam e vivem em um regime democrático de governo. Pois daí se igualará formal e materialmente o menos favorecido, que hoje já ocupa a denominada classe média em nosso País diante da onerosidade natural das custas processuais e dos honorários advocatícios que não podem ser suportado por muitos.
O argumento que a Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal é um inibidor da concessão do subsídio também não pode prevalecer. Isso porque o mandamento constitucional não dá brechas para inviabilizar tal comando. Pois, como consta da referida lei há a previsão de um percentual substancial para os Estados-Membros (60%) e para a União (50%), da receita corrente líquida, onde pode-se prever e destacar 2% dos 60% da referida receita, como estabelecido no art. 19 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, no caso dos Estados-Membros, para as suas Defensorias Públicas, e 2% dos 50% da aludida receita da União para os Defensores Públicos da União.
4. Outros direitos e garantias
A doutrina constitucional não tem se debruçado em um estudo mais detalhado sobre a Defensoria Pública, como o faz para a Magistratura e o Ministério Público. Talvez pela existência de apenas dois artigos específicos sobre a nobre Instituição, que surgiu como célula mater no Estado do Rio de Janeiro, para expandir-se no País e o que muitos não sabem foi recomenda como padrão a ser seguido no mundo pela Organização das Nações Unidas.
Necessário, pois, uma emenda constitucional para fazer inserir: que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbida, também, da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais, bem como da orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, inciso LXXIV da CRFB; os princípios institucionais; sua abrangência (estruturação Nacional e Estadual); outros direitos; as garantias da vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio; as vedações; as funções institucionais, o seu conselho nacional, tudo a exemplo do que já ocorre com a Magistratura e o Ministério Público, sem que isso implique em uma inconstitucionalidade.
Está claro, por essa linha de raciocínio, que deve ser atribuído a Defensoria Pública da União a defesa dos interesses daqueles que necessitam do provimento jurisdicional junto a Justiça Federal, em qualquer dos Órgãos do Poder Judiciário. Nos casos em que as lides forem da competência da Justiça Comum dos Estados-Membros, não poderá haver a atuação do Defensor Público da União, mesmo que tais lides cheguem aos Tribunais Superiores ou ao Supremo Tribunal Federal. Do mesmo modo deve ser observado nos procedimentos que venha se iniciar por reclamação ou representação junto ao Conselho Nacional de Justiça, por iniciativa que qualquer das Defensorias Públicas ou de seus membros.
Tais considerações se fazem necessário, porque ser autônomo é respeitar os limites das competências e atribuições Constitucionais. Daí a sugestão da existência de Projeto de Emenda Constitucional que especifique aquilo exemplificado acima.
5. Conclusão e medidas judiciais sugeridas
Como se observa, se o governo do Estado quer limitar em 2006, por exemplo, a remuneração dos Defensores Públicos ao subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal que foi fixado para o ano de 2005, estará violando todos os dispositivos constitucionais acima indicados, bem como as leis federais mencionadas.
As medidas sugeridas são:
a) a ação direta de inconstitucionalidade por omissão quer da Chefia Institucional, por falta de iniciativa (para aqueles que entendem, como nós, que a autonomia funcional e administrativa, e a iniciativa da proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, concede ao Defensor Público Geral dos Estados-Membros e da União legitimação para o encaminhamento da proposta orçamentária – v. § 2º do art. 134 da CRFB); quer do governador do Estado (para aqueles que entendem, por uma interpretação limitada, que deve haver a previsão textual na Constituição Estadual de dispositivo fixando o subsídio dos Defensores Públicos, semelhante aquilo que existe no art. 37, inciso XI, da Constituição Republicana);
b) o mandado de segurança, quando o governo do Estado-Membro viola direitos já assegurados quanto a liquidez e certeza, como na exemplificação acima, por falta de fixação do subsídio no Estado, no percentual previsto na Carta Republicana.
6. Extraí-se de tudo isso as seguintes teses:
1ª) Com as alterações Constitucionais já existentes, as Defensorias Públicas nos Estados gozam da autonomia funcional e administrativa, além da iniciativa da proposta orçamentária, o que implica falar na fixação da remuneração ao limite Constitucional imposto, por força dos princípios norteadores da Organização Político-Administrativa Brasileira.
2ª) Decorre da autonomia funcional, administrativa e financeira, a iniciativa da proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Constituição Republicana, cabendo alterações na Lei Complementar que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade de gestão fiscal (L.C. 101/2000), a fim de fazer inserir a Defensoria Pública como Órgão, que deve ter rubrica inerente as despesas com pessoal.
3ª) Outros direitos e garantias devem ser inseridos na Constituição Republicana, a fim de que se assegure às Defensorias Públicas a perenidade e suas independências, compatíveis com sua função essencial à Justiça, proteção aos necessitados, acesso à Justiça.
4ª) Diante das esferas de competências estabelecidas na Constituição Republicana, deve a Defensoria Pública da União só oficiar nos feitos que se originem e tramitem na Justiça Federal, cabendo as Defensorias Públicas dos Estados oficiarem em feitos da competência da Justiça Estadual Comum, inclusive em grau de recursos junto aos Tribunais Superiores e Supremo Tribunal Federal.
5ª) Na lesão a direito líquido e certo de Defensor Público que implique, por via direta ou indireta, redução de remuneração é cabível a impetração de mandado de segurança.
6ª) Na omissão do encaminhamento de proposta orçamentária e de fixação de subsídio, caberá a propositura de ação direta de inconstitucionalidade por omissão contra a Chefia Institucional, quando se entender (como se deve) que há autonomia funcional e administrativa, além da legitimação para a iniciativa da apresentação de proposta orçamentária do Defensor Público Geral.
7ª) Na omissão do encaminhamento de proposta de emenda constitucional que vise a fixação de subsídio caberá a propositura da ação declaratória de inconstitucionalidade contra o Governador do Estado-Membro (quando se entender que o Defensor Público não pode fazê-lo quando o texto constitucional do Estado-Membro não trouxer texto expresso nesse sentido).